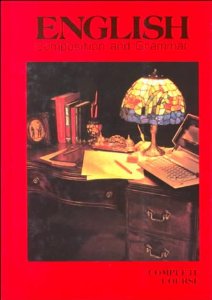Ana Paula Dias*
O South China Morning Post publicou este mês um interessante e polémico artigo sobre o ensino de inglês por professores nativos em Hong Kong (Native English Teachers, designado por NET), sob o título “Time to retire the native English teacher scheme”.
O autor, Vaughan Rapatahana, um neozelandês de ascendência maori, é escritor e doutorado em Literatura e Filosofia Existencial. É casado com uma filipina, viveu em vários países asiáticos, em ambientes multilinguísticos, estando actualmente sediado em Hong Kong, onde começou a trabalhar como NET em 2002. Referem-se estes dados para melhor enquadrar Rapatahana e aquilo que defende neste artigo, pois não se trata de todo de um indivíduo proveniente de um meio monocultural e monolinguístico nem sem conhecimento de causa sobre o assunto em apreço.
O NET foi implementado no ensino oficial em Hong Kong nas escolas secundárias e primárias, em 1998/99 e 2002/3, respectivamente. É um sistema que permite às escolas governamentais e às escolas subsidiadas empregar professores de inglês vindos do exterior. O objetivo é proporcionar exposição ao idioma inglês “autêntico” e facultar um enriquecimento cultural aos alunos chineses locais. Espera-se também que estes professores ajudem no desenvolvimento de recursos de ensino e na formação profissional dos professores de inglês nas suas escolas. Os NET são contratados por dois anos renováveis, recebem uma gratificação no final de cada contrato e ainda um subsídio extra destinado a compensar os custos adicionais de viver no exterior. Atualmente há cerca de 800 NET nas escolas de Hong Kong.
Rapatahana chama a este sistema “um elefante branco”, considerando que tem sugado o dinheiro dos contribuintes ao longo dos seus 15 anos de existência. Segundo ele, nunca houve argumentos convincentes e consistentes para o sistema, tratando-se de uma mera resposta à rejeição de pais e alunos quando o chinês foi unilateralmente decretado língua de instrução em 1998, na sequência da transferência de soberania em Hong Kong.
O esquema separa os chamados “falantes nativos de inglês” (quase todos eles estrangeiros e muitos deles monolingues) e os professores de inglês locais, estes últimos detentores das competências culturais e linguísticas necessárias para se entrosarem mais facilmente com a generalidade dos estudantes.
Em Hong Kong, a maioria das pessoas não quer verdadeiramente dominar a língua inglesa e em muitos casos não pode custear a formação necessária para atingir um nível elevado de proficiência na língua. Aliás, esse tipo de proficiência sempre foi acessível apenas a uma elite rica. Rapatahana compara o inglês ao ginseng: o gosto é mau, mas as pessoas sofrem porque acham que precisam dele para “ter sucesso”. Na realidade, poucos usam efetivamente a língua em casa ou em qualquer outro lugar.
O autor indaga o porquê de tantos despenderem tanta energia para aprender inglês, lutando para se matricular em escolas em que é língua veicular e nas chamadas instituições de elite. Em muitos casos, é uma questão de snobismo: para estas pessoas falar inglês, ou algo semelhante, distingue Hong Kong da China Continental (cujos alunos, ironicamente, dominam melhor a língua inglesa). Mas esta não é a principal razão subjacente à obsessão pelo domínio do inglês-padrão e a que subjaz a todo o sistema NET. O problema é que pais e alunos laboram na crença errónea – inteligentemente instigada desde os tempos coloniais – de que “precisam” da língua inglesa.
O domínio global do inglês foi mantido e incentivado por uma série de instrumentos e interesses anglo-americanos, por razões essencialmente económicas: por exemplo, os defensores ocidentais da língua inglesa ganham muito dinheiro com testes e exames de certificação. Mas também por serem os guardiões das publicações académicas e restringirem o acesso a todo o tipo de revistas; por convencerem universidades a rejeitar as suas línguas maternas como língua de instrução; e por alimentarem o fantasma dos rankings e dos índices de citação, hegemonizando a sua variante da língua inglesa e fazendo com que os falantes não-ingleses vejam frequentemente as suas línguas desvalorizadas.
Defende Rapatahana que em Hong Kong se deve permitir que os professores locais ensinem inglês, sem almejar atingir um domínio da língua desnecessário; não precisa ser um inglês-padrão mítico, nem que seja pelo facto relevante de não haver empregos suficientes a exigir esse nível de mestria. Também não vê qualquer validade na justificação da necessidade de ter proficiência para permitir a Hong Kong “competir” como uma verdadeira cidade “internacional”, para manter a sua “vantagem”: é um mito antigo, a par de outros sobre o “inglês asiático” – mitos propagados por uma comunidade de negócios com fortes laços internacionais.
Conclui, pois, que não há qualquer necessidade do projeto NET, embora bem-intencionado e diligente como muitos dos seus professores são.
Como em Macau este tipo de questões são recorrentes em relação ao português e ao seu ensino – e agora também quanto à cisma com a sua certificação massiva – convirá refletir sobre alguns dos importantes e interessantes pontos levantados pelo autor e sobre a experiência do território vizinho que encontram eco por cá. Dever-se-á apostar na quantidade ou na qualidade? No recurso a professores nativos, muitas vezes descontextualizados, ou na especialização e capacitação de profissionais locais de nível superior para o ensino do português como língua estrangeira?
Vaughan Rapatahana é co-autor do livro Why English? Confronting the Hydra, que será publicado no próximo ano e que poderá certamente ser uma achega útil a esta discussão.
*Doutoranda na Universidade Aberta